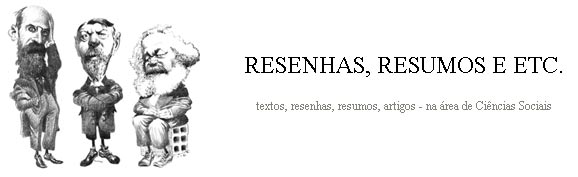SEGUNDA PARTE
Tentaremos, agora, examinar a literatura sobre a crise do Welfare State sob um outro prisma. O reordenamento das teses e argumentações será feito a partir, em primeiro lugar, do nível privilegiado pelos autores para compreensão da crise — o social, o político e o econômico. Por outro lado, reconstituiremos os argumentos principais e os debates implícitos ou explícitos nas teses; para tanto, privilegiaremos alguns autores que se destacam quer pela importância substantiva de seus argumentos, quer pelo grau de amadurecimento de sua reflexão, quer, finalmente, pela tentativa que fazem de indicar quadros alternativos de superação dos constrangimentos atuais que se impõem sobre as políticas governamentais de corte social.
A natureza da crise: análises e alternativas
Por uma nova forma de solidariedade social; a crise se origina e poderá se resolver nos planos sociais e políticos da sociedade
Já chamamos a atenção, na Primeira Parte, para a crescente força da tese que vê a raiz da crise do Estado do Bem-Estar nos valores e novos comportamentos sociais emergentes nas sociedades atuais.
Talvez seja Pierre Rosanvallon (1983) quem expõe e examina com maior profundidade esta tese, superando as formulações simplistas e cheias de ambigüidades sobre os "valores pós-materialistas" (Cazes, 1981).
Rosanvallon parte do diagnóstico evidente da crise financeira que incide sobre o Estado-Providência: o desequilíbrio crescente entre receitas e despesas. Entretanto, rejeita a tese de que seja esta, a financeira, a verdadeira crise, até porque, segundo ele, teoricamente há soluções: alterações ria relação salários diretos indiretos; diminuição da elevação das cotizações sociais compensadas por crescimento da carga fiscal etc. O problema, afirma, é que soluções ,financeiras desta natureza implicam modificações do equilíbrio social existente entre indivíduos, categorias sociais e agentes econômicos. .Aí reside, verdadeiramente, — o bloqueio: o que se designa, geralmente, pela expressão "impasse financeiro" é, antes de tudo, o problema do grau de socialização tolerável de um certo número de bens e serviços (p. 16). O verdadeiro bloqueio ao Estado-Providência é, afinal, de ordem cultural e sociológica: a crise é de um modelo de desenvolvimento e crise de um sistema dado de relações sociais. A pergunta que deve ser respondida, então, é a seguinte: o Welfare State continuará sendo o único suporte dos programas sociais e o único agente da solidariedade social?
Ao reconhecer como todos, inclusive os liberais, de que há problemas de financiamento, Rosanvallon critica, entretanto, a postura conservadora que opõe, de modo quase sempre encantatório, as virtudes do mercado ao Estado redistribuidor. Se redução positiva da demanda social ao Estado há que se fazer, será entretanto, não através de um retorno ao mercado, antes pela implantação de novos métodos de progresso social, complementares ao Estado-Providência, suscetíveis de limitar o crescimento mas permitindo servir de base a uma nova etapa do desenvolvimento social. Também aos sociais-democratas dirige sua crítica: ao se fecharem numa posição estatista de solidariedade, serão incapazes de encontrar saídas: "... crise do Estado-Providência e crise do modelo social-democrata tradicional caminham de par a par" (p. 10).
As premissas de que parte Rosanvallon para pensar a crise do Estado-Providência são as seguintes:
O Estado-Providência simultaneamente gera e funda-se no indivíduo como categoria social e política. Ao mesmo tempo, como Estado fiscal que é, não pode existir sem o desenvolvimento da economia e sociedade de mercado, isto é, sem a afirmação do Indivíduo como categoria econômica central e com o máximo de autonomia possível (em relação a comunidades e localidades prévias). Nesse, sentido, a solidariedade fundada sob a égide do Estado-Providência é aquela de uma sociedade que vive como um composto de indivíduos: trata-se de uma solidariedade mecânica, que se efetua pela intermediação do próprio Estado, tornando opaca as relações sociais reais.
Ora, a crise que vive hoje o Estado enraíza-se nos desdobramentos perversos de suas próprias contradições, seja aquela própria da relação Estado-igualdade, no plano dos valores, seja a relacionada com a fragmentação social.
No plano intelectual e dos valores, trata-se de entender que o valor de igualdade, fundamento do Estado, está em crise: a pergunta que se faz o autor é, aliás, a de se a igualdade como um valor, tal como concebida e realizada sob a égide do Estado, tem ainda futuro. Isto porque há uma contradição de base entre igualdade política e civil e igualdade econômica. No domínio político, a demanda por igualdade traduziu-se pela determinação de uma norma idêntica para todos, pela eliminação de diferenças de estatutos civis ou políticos. No plano econômico, diferentemente, a demanda por igualdade econômica e social apresenta-se como vontade da redução das desigualdades. O paradoxo central das sociedades democráticas encontra-se exatamente nessa relação entre a vontade de redução da desigualdade e na negativa, também presente, de uma igualdade idêntica no plano econômico e social, isto é, no reconhecimento das diferenças. Esta é, para o autor, a fissura intelectual, cultural, que corrói o edifício da cultura democrática e igualitária.
Mas a crise é também crise dessa solidariedade mecânica fundada pelo Estado: seus sinais podem ser encontrados na corporativização social, no desenvolvimento de reações de categorias estreitas em matéria de impostos, salários etc. As reivindicações dos indivíduos e grupos distanciam-se cada vez mais do sentido social de seus efeitos. O grande exemplo é o da "economia subterrânea": trata-se de uma retratação social negativa, que afeta as bases tributárias do Estado e, portanto, tem efeitos sociais perversos, mas trata-se também de uma vontade de desenvolver formas de solidariedade direta e modos autônomos de atividades. Nesse sentido, "... a crise do Estado-Providência corresponde aos limites de uma expressão mecânica da solidariedade social" (p. 44).
Rosanvallon chama a atenção para algumas causas que percebe estarem atuando no sentido das rupturas e limites que assinalou A própria idéia de "proteção" tende a se tornar cada vez mais central, mas a força de demanda por segurança, por exemplo (contra acidentes nucleares ou por força supranacional etc.) tende a relativizar a demanda por igualdade e democracia. Em segundo lugar, a crescente distância entre um crescimento econômico lento e o aumento das despesas públicas está se fazendo sem movimentos sociais de expressão. Antes, cada avanço do Estado esteve ligado a uma forte significação social, que punha em xeque seja a coesão social — o contrato devia então ser reformulado — seja, em guerras, a própria sobrevivência de todos. Hoje, os mecanismos de redistribuição crescem sem intenção política deliberada, o que torna cada vez mais ilegítima, politicamente, a redução automática de desigualdades. E por isso mesmo seu custo econômico aparece para todos como sem nenhuma compensação política.
Ligado a este fato, está um outro, o de que a redistribuição, ao operar (teoricamente) sobre grandes e pequenas desigualdades (aliás, principalmente sobra as pequenas), encontra reações que mostram os limites do esquema "fazer com que outros paguem", a emergência de um dado sentimento de injustiça, a paradoxal mescla entre a "paixão pela igualdade" e o desejo da diferença.
Finalmente, a demanda pelo Estado-Providência não aparece como o único meio de proteção social: numa sociedade cada vez mais fragmentada, oligopolizada mas também "balcanizada" pela pressão das estruturas econômicas e as de negociações, a proteção passa não somente pelo Estado, mas também pela busca de localização de cada um em segmentos (ou oligopólios) mais favoráveis. Por sua vez, o Estado, incapaz de se fundar sobre um compromisso social de conjunto, multiplica os arranjos sociais categoriais, contribuindo para a diminuição de sua legitimidade: "O Estado-Clientela começa a se edificar no Estado-Providência" (p. 40).
Em resumo, a crise da solidariedade provém de um deslocamento mecânico do tecido social, de uma decomposição: tudo se passa. como se não houvesse mais o "social" entre Estado e os indivíduos. É por isso que, para o autor, a crise do Estado-Providência deve ser apreendida a partir das formas de socialidade que ele induz e não, ser reduzida ao grau da "socialização da demanda", isto é, às porcentagens de tributações obrigatórias toleráveis.
Nem podem as saídas para a crise serem pensadas nos estreitos quadros das alternativas estatização x privatização. Fazer crescer a socialização (nos quadros do Estado) ou encontrar um novo equilíbrio fundado na extensão da privatização, desenham tão-somente dois cenários possíveis, o social-estatista e o liberal. No caso da alternativa social-estatista, a elevação de tributos requerida é não só difícil na crise como pode provocar uma fragmentação maior ainda, da sociedade; por mecanismos de compensação e autodefesa, pode-se antecipar um maior desenvolvimento da "economia subterrânea", do "trabalho negro", maior segmentação do mercado de trabalho, a consolidação de uma verdadeira "sociedade dual". Com a alternativa liberal, o efeito é uma volta atrás na redistribuição já avançada, uma verdadeira regressão social afetando a maioria das pessoas. O que supõe a presença de um Estado forte, capaz de enfrentar as resistências sociais, mas por isso mesmo dotado de um nível muito baixo de legitimidade política.
Rejeitar este quadro estreito significa, para o autor, o esforço de se repensar as fronteiras e as relações entre o Estado e a sociedade. As lógicas unívocas da estatização (serviço coletivo = Estado = não-mercantil = igualdade) e da privatização (serviço privado = mercado = lucro= desigualdade) devem ser substituídas por uma tríplice dinâmica articulada da socialização, da descentralização e da autonomização:
-
"Desburocratizar e racionalizar a gestão dos grandes equipamentos e funções coletivas: é a via de urna socialização mais amena. Grandes esforços devem ser feitos neste domínio para simplificar e melhorar a gestão, mas esta não é uma via inovadora em si mesma;
-
"Remodelar e reorganizar certos serviços públicos de modo a torná-los mais próximos dos beneficiários: é a via da descentralização. Visa a fazer crescer as tarefas e responsabilidades das coletividades locais nos domínios sociais e culturais;
-
"Transferir às coletividades não públicas (associações; fundações, agrupamentos diversos) as tarefas de, serviço público: é ac via da autonomização. É esta a via a que pode ser a mais nova e interessante para responder as dificuldades do Estado-Providência e enfrentar as necessidades sociais do futuro.
"(...) Mais globalmente, esta alternativa à crise do Estado-Providência não terá sentido a não ser que se inscreva no tríplice movimento de redução da demanda do Estado; reinserção da solidariedade na sociedade e produção de uma maior visibilidade social" (p. 112).
A partir desta proposta, o autor desenvolve algumas considerações interessantes. Para ele, a redução da demanda ao Estado não deve ser confundida com uma, visão instrumental do Estado, através dos conceitos de Estado-mínimo ou Estado-socialmente ativo. Passa antes por algumas condições tais como a produção de um novo direito não centrado na bipolaridade indivíduo-Estado, mas que possa recobrir as formas não-estatais de socialização: o reconhecimento de grupos de vizinhança, de bairro, redes de ajuda etc. Do mesmo modo que sublinha a necessidade de se reconhecer um direito de substituibilidade do estatal pelo social no domínio de certos serviços coletivos (o exemplo que dá é o das creches), o que significa que o Estado reconheça, sob forma de dedução fiscal, os serviços coletivos levados a cabo por grupos sociais. Auto-serviços e serviços públicos pontuais de iniciativa local, ao multiplicarem-se, reduzem a demanda ao Estado.
Tornar as ligações intermediárias da composição social mais numerosas e múltiplas, reinserir os indivíduos em redes de solidariedade direta, tornar assim mais densa a sociedade, constituem formas de reaproximação da sociedade consigo mesma. Não é o caso, para Rosanvallon, de cair na nostalgia de imaginar um retorno à forma comunitária como alternativa para a "dessocialização" da sociedade de mercado. O próprio tecido tem dado sinais de resistir à fragmentação, produzindo formas, ainda que parciais e insuficientes, de reaproximação social: redes subterrâneas de solidariedade familiar ou grupal, apropria economia informal constituem formas de socialização transversal que apontam para a possibilidade de uma reinserção da solidariedade na sociedade. Reconhecê-los constitui um passo inicial. E a condição primeira do desenvolvimento da socialidade de novo tipo reside no aumento do tempo livre. Nessa perspectiva, a redução do tempo de trabalho não é apenas uma possibilidade dada pelas condições atuais da produção, ou uma exigência econômica para a redução do desemprego: é a condição para a aprendizagem e efetividade de novos tipos de vida, aqueles envolvidos pelos serviços mutuais, pela ampliação das atividades de vizinhança etc.
Finalmente, o autor insiste nos mecanismos já dados que permitem tornar mais visíveis as relações e fins sociais, desde. aqueles que tornariam .mais transparentes os montantes e finalidades das taxações, por exemplo, como outros que permitiriam fazer emergir de modo mais localizado e concreto as necessidades e aspirações. Até mesmo um organismo voluntário de informação sobre o florescimento das iniciativas auxilia neste aspecto e amplia a troca de experiência. (O exemplo é o do Mutual Aid Center da Inglaterra)
Terminemos esta exposição expondo, agora, as considerações mais gerais e políticas que faz o autor. A seu ver, as transformações em curso assim como as projeções sociais possíveis indicam a falência do quadro de compromisso keynesiano que regula as relações entre o econômico e o social, há mais de trinta anos, nas sociedades industriais democráticas. Este modelo esteve fundado sobre o Estado-Providência e sobre as negociações coletivas. Mas entrou em crise porque está sendo desmantelado o espaço social homogêneo sobre o qual se montou, o que põe em colapso o Estado e conduz à perda de substância as formas clássicas de negociações coletivas. E tudo isso se faz friamente, num clima de ceticismo, dúvida, sem grandes e espetaculares choques e resistências. Desconfiança que num primeiro momento se exprimiu por alternativas autogestionárias tanto na ótica liberal quanto libertária. Num segundo momento, o próprio pano de fundo sociológico do modelo keynesiano, — centrado numa representação bipolar de classe social — se rompeu: novos campos de conflito social se irrompem, nas relações homens/mulheres, dirigentes/dirigidos, Estado/religiões etc., não redutíveis aos atores tradicionais do enfrentamento de classes. "Nem o Estado-Providência nem as negociações coletivas constituem instrumentos de regulação adequados desses fenômenos". (p. 132) Nos anos 80, complica-se a situação pela ocorrência de uma verdadeira retração do social: rupturas no mercado de trabalho, busca, de alternativas individuais entre os múltiplos segmentos, estatutos, regulamentações etc. Fenômeno ambíguo, ele é ao mesmo tempo sinal de uma retração reacionária, de um modo entrópico de vida, mas também emergência de novas relações sociais marcadas pela busca de maior proximidade social, pela crítica a um "coletivismo" pesado.
É a crise e esgotamento de um modo de regulação social que está em jogo, sendo parcialmente substituído por uma forma pulverizada de regulação de tipo intra-social (fundada nas relações indivíduo/sociedade, cujos agentes principais de regulação são os indivíduos, as famílias, os grupos de vizinhança, atuando num espaço múltiplo e não territorializado) ou pela forma autogestionária (fundada nas relações Estado/sociedade civil, cujos agentes sociais ou os grupos de base, atuando num espaço descentralizado na sociedade civil e centralizada na sociedade política). Que estes modos de regulação emergentes possam conduzir a novas perspectivas sociais ou políticas ou que levem ao individualismo e ao liberalismo, não está determinado nem social nem politicamente. Depende inclusive do movimento de superação do modelo keynesiano de regulação, o que, para o autor, está na dependência de as formas e organizações sociais-democratas e socialistas se repensarem e se posicionarem na crise.
Se, numa ótica defensiva, a perspectiva social-democrata tão-somente pretender retomar o espaço e os mecanismos keynesianos de regulação, condenar-se-á ao fracasso, permitindo que forças neoliberais recuperem em seu proveito a ruptura das formas de compromisso ainda vigentes, abrindo espaço para maior corporativização e manutenção de uma maquinaria morta: "Se nenhuma alternativa positiva for proposta por aqueles que mais se beneficiam do EstadoProvidência, iremos em direção a uma sociedade bastarda, na qual o reforço dos mecanismos de mercado coexistirá com a manutenção de formas estatais rígidas e o desenvolvimento de uma corporativização social parcial" (p. 136).
Para Rosanvallon, a alternativa será, nos termos em que já descreveu, a criação de um espaço pós-social democrata que repouse na redução do papel do modelo keynesiano e na sua combinação com modos de regulação autogestionários e intra-sociais.
Trata-se de definir um novo compromisso social, que contemple a possibilidade de maior flexibilidade econômica, uma certa desburocratização do Estado, assim como o reconhecimento maior das pessoas, dos grupos, garantidos por atores coletivos (os sindicatos) e pelas instituições. Triplo compromisso, na verdade, porque significa:
-
compromisso de ordem sócio-econômica com o patronato, envolvendo redução e reorganização do tempo de trabalho, assim como ampliação dos procedimentos de negociação coletiva;
-
compromisso de ordem sócio-política com o Estado; aumento das possibilidades de experimentação e de substituição por auto-serviços da demanda ao Estado; aumento das liberdades civis contra mais estabilização do Estado-Providência a seu nível atual;
-
compromisso da sociedade consigo mesma; trata-se de um compromisso democrático, que tem como objetivo desbloquear o Estado-Providência e de permitir a expressão de solidariedades negociadas, num quadro de ampla visibilidade social.
O interesse da análise de Rosanvallon está principalmente no fato de que ordena e sistematiza um conjunto de teses e observações já aventadas por todos quanto têm chamado a atenção para a natureza social e política da crise atual, desde o nível das rupturas no próprio tecido social Bestado pelo capitalismo, até as restrições que se têm manifestado ao nível político, em termos de consenso e compromissos. Por outro lado, é bastante interessante a forma como pensa a natureza das alternativas já possíveis de reestruturação do campo social e de suas relações com o Estado.
A propósito, entretanto, do esgotamento do modelo vigente de regulação e das formas conhecidas de negociações coletivas, vale a pena lembrar o repto que faz Wilenski (1981) às teses da suplantação do quadro atual pelos valores pós-materialistas ou pelo esgotamento das condições de negociação política. Sigamos este autor na apresentação que faz de suas teses:
-
A distinção entre "valores pós-materialistas" da sociedade pós-industrial e os "valores materialistas" da sociedade industrial não contribui com nenhum esclarecimento sobre os obstáculos que entravam a política social nos anos 80.
-
As escolhas entre a proteção do emprego, os seguros sociais, a igualdade e a democracia fundada na participação, de um lado, e a produtividade do trabalho, o crescimento econômico e medidas relativas às realizações da economia, de outro, não são tão rígidas como deixam supor muitos analistas.
-
Quando novos valores morais aparecem, é possível, sem grandes custos suplementares, mas com grandes vantagens, modificar o Estado-protetor e orientá-lo em novas direções mais conformes com as novas questões da ordem social e as reivindicações de participação. Entretanto, os países democráticos nos quais as negociações entre empregadores, trabalhadores e os poderes públicos têm uma estrutura mais "corporativa" estão muito melhor colocados que outros para manter ou obter o consentimento popular que é indispensável se se pretende criar um Estado protetor mais humano e mais eficaz, conservando realizações econômicas satisfatórias (Wilenski, 1981, p. 215-216, 1975, 1976).
Ao desenvolver estes argumentos, Wilenski sustenta, em primeiro lugar que, no que diz respeito à estrutura da opinião pública, as pesquisas têm indicado uma permanência do apoio às políticas sociais, as diferenças se dando muito mais entre partidos políticos; o que significa que homens e partidos políticos podem mobilizar a opinião pública em sentido mais ou menos favorável às medidas de proteção social, explorando seja a vontade manifestada de que a população continue contando com os serviços sociais, seja a crescente resistência a pagar por tais serviços.
A seguir, Wilenski se pergunta qual é o gênero de economia política mais capaz de criar o consentimento popular necessário à política social? A resposta, segundo ele, passa por uma diferenciação entre os países. Distingue, em primeiro lugar, os países de democracia corporativa, tais como Países Baixos, a Bélgica, a Suécia, a Noruega, a Áustria e a República Federal Alemã. Este grupo caracteriza-se pelo jogo de influências recíprocas que se exercem entre grupos de interesse fortemente organizados e centralizados, em particular, as associações de trabalhadores, de empregados e as profissionais, que todo governo forte ou moderadamente centralizado tem que consultar, quer esta obrigação decorra de uma lei ou de um acordo oficioso. É por via de negociação que estes países logram criar um consentimento geral sobre as principais questões da economia política moderna, tais como o crescimento econômico, os preços, os salários, o desemprego, o balanço de pagamentos e a política social. "Nesses países, a política social em certa medida se confunde com a política econômica geral, numa época em que o crescimento prossegue lentamente e as aspirações tornam-se mais ambiciosas: trabalhadores que buscam melhorar seus salários, suas condições de trabalho, sua proteção social, e, em menor medida, criar uma democracia fundada sobre a participação, são obrigados a levar em conta a inflação, a produtividade e os imperativos do investimento. Os empregadores, que buscam melhorar os lucros, a produtividade e o investimento, são obrigados, pelo seu lado, a levar em conta a política social (p. 221). Segundo pesquisas que levou a cabo (Wilenski, 1975, 1976), o autor afirma serem estes países que melhor têm se saído na gestão da crise, assim como sus-tenta a tese de que nenhum país democrático rico poderá obter consentimento mínimo necessário para implementar medidas econômicas e sociais eficazes se não estiver dotado de fortes estruturas de negociação.
No segundo grupo de países, Wilenski distingue aqueles caracterizados por uma democracia corporativa sem plena participação dos trabalhadores. Estariam neste caso o Japão, a França e talvez a Suíça, onde em graus diversos, têm sido estabelecidos procedimentos quase públicos de negociação para que a indústria, a agricultura, o comércio e as associações profissionais possam exercer sua influência em comum. Permite-se coordenar e planificar em parte as medidas de política social e econômica, mas até agora, as federações sindicais são mantidas relativamente à distância. Ainda que haja diferenças no grau de autoridade dos administradores e burocratas do Estado, entre os três países, são aqueles que ocupam, entretanto, a situação mais central na definição e aplicação das políticas governamentais. Na visão prospectiva de Wilenski, estes países estão em condições de obter, presentemente, bons resultados econômicos sem, entretanto, adotar medidas explicitas de melhoria da igualdade econômica. Frente, entretanto, às dificuldades econômicas e à possibilidade de elevação da capacidade reivindicatória das massas, ou deverão introduzir um grau maior de participação dos sindicatos, como os países do primeiro grupo, ou serão conduzidos a optar por maior autoritarismo e recorrer a meios de coerção para manter sob mão-forte o movimento sindical, que tenderá a manifestar crescente descontentamento.
Na terceira categoria encontram-se países tais como Estados Unidos, Inglaterra, .Canadá e Austrália, cujas estruturas de negociação são as menos corporativas e são caracterizados por uma economia política fragmentada e descentralizada. Nenhum desses países avançou muito, segundo Wilenski, na instauração de um Estado-protetor. Defesa, na melhor das hipóteses, de objetivos pessoais e particularizados, e imobilismo social, são características dos grupos de interesses destes países.
Para responder sobre as melhores possibilidades de gestão da crise; Wilenski apóia-se exatamente nesta distinção prévia sobre a estrutura política. São os países de democracia corporativa os que têm apresentado maiores e mais pesadas despesas sociais e que têm, segundo ele, também apresentado resultados iguais ou superiores em relação aos outros, seja qual for o critério utilizado para medir suas realizações econômicas. Em nenhum desses países assistiu-se a movimentos contra os impostos tais como aqueles que marcaram as campanhas de Glistrup na Dinamarca, Powell e Thatcher na Inglaterra, Wallace e Reagan nos Estados Unidos. E isso se deve ao fato de que os países do primeiro grupo têm sido capazes de obter o consentimento popular para a consecução de suas políticas econômicas e sociais. "Uma das razões que explicam porque os países de democracia corporativa, mantendo pesadas despesas sociais, têm atingido resultados econômicos um pouco melhores que os outros, diz respeito ao fato de que eles preferem em geral uma política ativa do mercado de trabalho e medidas de proteção ao emprego, muito mais do que outras disposições, talvez mais onerosas, em vigor nos países menos corporativos e menos avançados na instauração de um Estado-protetor, e que se limitam a fornecer uma ajuda social, sem contribuir minimamente a uma utilização racional dos recursos humanos" (p. 225).
No que se refere à resistência aos impostos, são estes também os países que lograram estruturas de tributação mais equilibradas, exatamente porque estabelecem sua política fiscal e suas estimativas de despesas por meio de procedimentos de deliberação que lhes permitem atenuar as conseqüências de ordem política em colaboração com os grupos interessados. Desde os anos 70, chegou-se à convicção, nestes países, "... de que não podiam se permitir decidir da progressividade ou regressividade do sistema fiscal sem levar em conta as despesas sociais, que formam o segundo elemento da equação. Antes de poder concordar com despesas, é preciso perceber as somas necessárias a seu financiamento: é, portanto, por pura necessidade de ordem política, e também porque dispõem do aparelho político necessário para responder a esta necessidade, que chegam a melhor equilibrar a estrutura de impostos, isto é, a reservar um lugar mais importante aos impostos indiretos e às cotizações para a proteção social" (p. 226).
Finalmente, para o autor, é importante saber até onde os Estados-protetores dos países de democracia corporativa podem estabelecer políticas novas, mais adaptadas às condições atuais e às demandas contemporâneas. É certo que, aparentemente, o pesado aparelho centralizado e burocratizado de negociação é pouco flexível para se mover. Entretanto, parecem ser estes mesmos países que estão avançando na ampliação de suas políticas sob formas que ao mesmo tempo conduzem à contenção de custos, propõem remédios aos problemas novos e contribuem com vantagens sociais reais. Os melhores exemplos ficam, para o autor, em torno da evolução que apresentaram em relação aos seguros contra acidentes do trabalho, às alocações de desemprego e às alterações nas pensões por aposentadoria. As maiores dificuldades continuam sendo as referentes aos altos custos do atendimento médico, dado o forte poder dos grupos de interesses aí .estabelecidos e que se opõem às transformações deste setor visando a privilegiar a medicina preventiva, as campanhas de educação alimentar e a cultura física.
Em seu conjunto, a argumentação de Wilenski é bastante interessante, principalmente porque convida a evitar uma supervalorização da questão das mudanças de valores, assim como introduz fortemente a questão da estrutura política na análise e compreensão das políticas econômicas e sociais na crise. De uma outra perspectiva, Schmidt (1982) contribui com instigantes resultados de pesquisas que ora apóiam, ora contestam ou introduzem nuances nas observações de Wilenski.
Em primeiro lugar, o autor chama a atenção para o fato de que a composição dos governos não tem sido um fator decisivo na definição das prioridades e das políticas governamentais na crise. Segundo dados de sua pesquisa, não haveria uma clara linha divisória entre as políticas, adotadas por governos sociais-democratas e outros que não o são. Isto, entretanto, não significa que composições partidárias de governo não sejam importantes nem que os decisivos seriam tão-somente os problemas econômicos. Tanto um fator quanto outro só ganham pleno sentido quando combinados com a força dos sindicatos de trabalhadores e patronais, a ordem e regulação do conflito de classe (formas mais ou menos corporativas), o grau de harmonia entre o encaminhamento dos conflitos políticos na arena industrial e na dos partidos, o grau em que "valores solidários" caracterizam a cultura política. A partir da análise combinada desses elementos, Schmidt afirma que nações sob governos sociais-democratas e, mais importante, com equilíbrio de classes na arena industrial e no sistema partidário, têm apresentado maior grau de "governabilidade" nas condições da crise atual. A seu ver, então, as mais importantes barreiras que restringem o raio de ação das políticas que contribuem para regular o conflito entre trabalho, capital e clientelas do Welfare State não são de caráter econômico ou tecnológico, mas sim e também de caráter político; a grande dificuldade sendo a de compreender os paradoxos do sucesso de políticas de bem-estar e perdas eleitorais significativas. Observa que a relação entre o grau de efetividade das políticas sociais, de um lado, e o apoio político e a paz social, de outro, não guardam relação unívoca. É possível constatar que não houve espetaculares reações políticas à elevação das taxas de desemprego e redução de medidas redistributivas: isto pode em parte ser explicado seja pelos altos níveis de proteção já atingidos, seja porque os impactos negativos do desemprego e dos cortes têm caído sobre grupos socialmente desorganizados, em geral que nunca entraram na força ativa de trabalho; mas pode também dever-se a uma alteração de valores e atitudes em relação ao trabalho, lazer e emprego.
Também os paradoxos eleitorais desfazem a idéia de uma relação necessária entre o sucesso no manejo da economia/generosos gastos sociais com apoio e reeleição. Em conjunto, os comportamentos eleitorais nas democracias industriais avançadas têm se mostrado erráticos (perda de eleições na Suécia e na Noruega e na Itália em 81, respectivamente, e reeleição na Alemanha e na Itália em 80 e 79, respectivamente).
É de chamar a atenção um certo "zigue-zague" que permeia a literatura. Aparentemente, a crise atual pôs em cheque não apenas as práticas de intervenção social do Estado como as próprias teorias e concepções que as fundamentaram: crise do Welfare mas também da visão social-democrata da política; crise econômica geral mas também corrosão dos mecanismos de política e da própria concepção keynesiana da dinâmica econômica e da relação entre Estado e economia. Por outro lado, ressurgem com alguma força — produzindo sorrateiros encantos em muitos ou soando como novidade — as teses liberais, tanto econômicas quanto políticas: não à regulação econômica pelo Estado, não à sua intervenção social, sim ao Estado reduzido, encolhido, mínimo. Tudo, é claro, em nome da maior liberdade, da ampliação da democracia. Uma dupla ilusão permeia esta visão: reversão do Estado e reversão da economia às condições do livre mercado (sem monopólios). Finalmente, surgem resistências ao conservadorismo econômico e político: veja-se a defesa que faz Wilenski da estrutura política de negociações que marcou a prática social-democrata; ouça-se a crítica de Rosanvallon à possibilidade de que conteúdos de liberalismo logrem permear a crítica de esquerda assim como as alternativas autogestionárias frente ao Estado centralizado, regulador e interventor. No plano da análise econômica, o panorama não é diferente.
A concepção e a prática conservadoras reagiram à crise retomando, num movimento quase anacrônico, as teses liberais mais estreitas, até mesmo bastardizando-as, como parece ser o caso da supply-side economics. Por seu lado as concepções progressistas e críticas, que haviam apontado para a insuficiência da solução keynesiana para a reversão da situação atual, passaram a uma postura mais ofensiva. Frente ao conservadorismo, frente ao monetarismo, frente aos da supply-side economics, moveram-se numa retomada vigorosa de Keynes — e dessa forma pretende-se enfrentar também o keynesiano bastardo — e foram à frente, insistindo na insuficiência da análise keynesiana para encontrar alternativas para a crise atual.
Tanto no plano econômico quanto político o desafio às teorizações continua. No item logo a seguir, expomos aquelas análises que, no plano econômico, são as mais significativas e exemplares das diferentes posturas frente à crise e às políticas sociais.